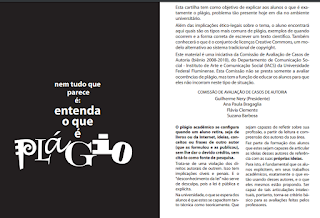Primeiramente é preciso destacar que o processo de pesquisa não é linear, apesar de poder ser sistematizado. Trata-se de um vai e vem na medida em que se lê, experimenta visões e entra em confronto com ideias diversas. A definição do objeto fica mais amadurecida depois de algumas leituras, sendo que parte dessas serão bases para se aprofundar e outras são descartadas ao longo do caminho.
Severino (2007) distingue 3 fases do amadurecimento de um trabalho: (1) a fase da invenção, da descoberta e da formulação de hipóteses; (2) a pesquisa em si, podendo ser experimental, de campo e/ou bibliográfica e (3) a formulação amadurecida com o levantamento de fontes e documentos. Assim, há um percurso de exploração, leitura e amadurecimento da proposta e das percepções do pesquisador-autor, para daí se produzir um trabalho acadêmico.
As pesquisas acadêmicas são também pesquisas bibliográficas, pois sempre retomam as bases do tema a ser tratado. Algumas são apenas bibliográficas e outras e realizam também a pesquisa empírica, com dados construídos em trabalho de campo. De acordo com Severino (2007)
Já em uma pesquisa bibliográfica sistemática, revisão sistemática ou metapesquisa utiliza de palavras-chave e busca de trabalhos em bases de dados, com recortes e filtros como período de publicação, área de estudos, entre outros. Pode haver diferenças procedimentais em cada uma das nomenclaturas e abordagens conforme os autores, mas basicamente apresentam o uso de palavras-chave para busca em bancos de dados e critérios de exigibilidade , ou seja, o que seja incluído ou não na lista de estudos a serem lidos. Essa busca pode ser realizada tanto em bibliotecas quanto em bases de dados digitais (ver exemplos mais adiante).
A leitura dos estudos de revisão sistemática é guiada por perguntas pré definidas que são feitas para cada estudo, conforme o problema de pesquisa. Por exemplo, em um artigo que foi publicado em 2015, realizei uma pesquisa sistemática sobre o que outros estudos dizem sobre a formação de professores para a gestão democrática na escola. Com as leituras, foram formadas categorias a partir dos achados, que depois foram sistematizadas em anotações e arquivos.
No exemplo, realizamos um levantamento junto ao Banco de Teses e Dissertações Capes das produções referentes aos anos de 2011 e 2012. Observamos que, nesse período, foram defendidas 25 dissertações e 4 teses com os termos gestão democrática da educação, gestão escolar democrática e gestão democrática na escola. A intenção era verificar, inicialmente, através dos resumos, os temas e objetos investigados nas pesquisas, além de seus resultados, buscando compreender as tendências na efetivação da gestão democrática na escola.
Algumas bases de dados digitais de material bibliográfico mais comuns no Brasil:
- SciELO - Brasil - É um portal que reúne acesso aos principais periódicos científicos do país, organizados por temas e áreas de conhecimento.
- LILACS - bvsalud.org - Um abrangente índice da literatura científica e técnica da América Latina e Caribe.
- Portal de Periódicos da CAPES - Uma plataforma digital que oferece acesso a uma vasta gama de periódicos científicos, artigos, revistas, e outras fontes de informação acadêmica. Desenvolvido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
- Catálogo de Teses & Dissertações - CAPES - Trata-se de um repositório de dissertações e teses defendidas em universidades brasileiras s, também desenvolvido pela CAPES.
A biblioteca da UDESC elaborou um material informativo sobre revisão sistemática, um guia para quem quer se aprofundar nessa metodologia de pesquisa. Veja em: https://www.udesc.br/bu/manuais/rsl
Existe outro tipo de pesquisa que pode se confundir com a pesquisa bibliográfica que é a pesquisa documental. Trata-se de uma outra metodologia que envolve práticas próprias. Sobre a pesquisa documental, veja este outro artigo: Pesquisa Documental: utilização e abordagens metodológicas
Enfim, muito se poderia falar sobre pesquisa bibliográfica e sistemática, no entanto, o objetivo aqui é aproximar ou reaproximar as pessoas dos procedimentos de pesquisa acadêmica e mais leituras podem ser necessárias para o aprofundamento da compreensão.
Referência:
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2007.